Publicações
A construção do novo tronco da EFCB na região central de Minas Gerais e a reestruturação territorial do Vale do Paraopeba no início do século XX
Acesse o trabalho na íntegra pelo link: http://hdl.handle.net/1843/79074
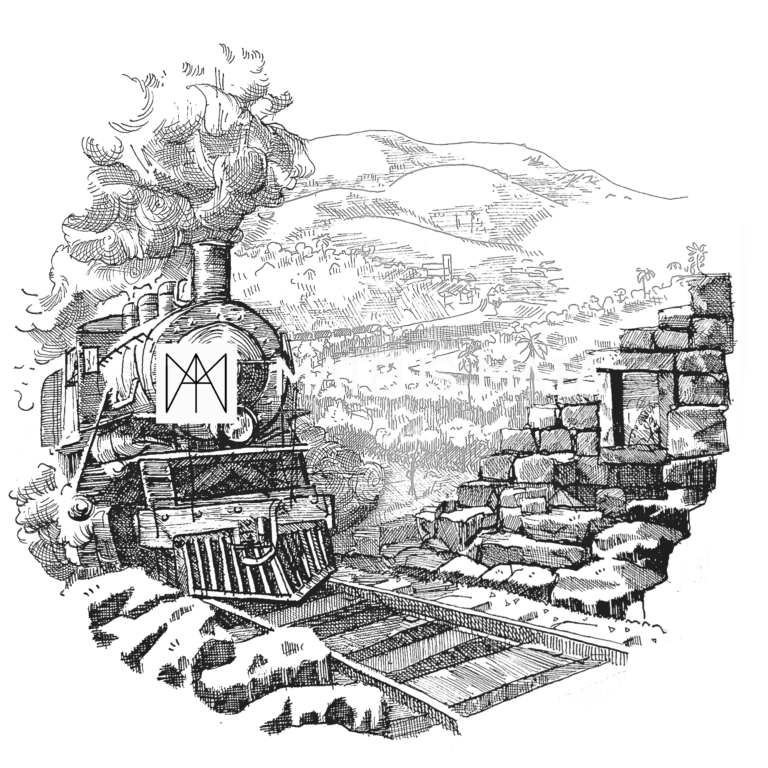
Entre 1910 e 1919, foi executada na região central de Minas Gerais uma obra de grande custo que visava abandonar o antigo tronco da principal ferrovia brasileira, a Estrada de Ferro Central do Brasil, e implantá-la ao longo do Rio Paraopeba. A decisão pelo novo traçado, que ampliava o percurso entre as antigas estações General Carneiro e Queluz (Conselheiro Lafaiete) acarretava a necessidade de novas desapropriações, não foi devidamente estudada pela historiografia. A presente dissertação visa, por um lado, explicitar as controvérsias e os jogos de interesses que apoiaram e viabilizaram esta iniciativa, por outro, demonstrar as transformações que sua execução ocasionou no território do Vale do Paraopeba. A pesquisa se apoia na história urbana, em jogos de escala temporais e geográficos (REVEL, 1998) e nas contribuições tanto de autores interessados nas estruturas de longa duração – a tipo-morfologia de Muratori (1967) – como daqueles que foram vinculados a corrente do pós-estruturalismo – a teoria ator-rede de Latour (2015).
A dissertação estrutura-se em três capítulos. O primeiro, dedica-se à análise das disputas de interesses que envolveram a decisão da construção da linha ao longo do rio Paraopeba, das quais se destacam: as diferenças entre as linhas executadas pelo poder público – calcadas em interesses políticos e de integração territorial – daquelas de iniciativa privada – as ferrovias chamadas cata-café –, as controvérsias em torno da bitola adequada à expansão ferroviária e a especulação fundiária dos territórios atravessados pela ferrovia. O segundo capítulo dedica-se, em específico, à construção do Ramal Paraopeba, explicitando as controvérsias e condições enfrentadas durante a execução da obra. No terceiro capítulo demonstra-se como um território antes marginal transformou-se em termos geopolíticos, populacionais e fundiários após a implantação da ferrovia. Concluiu-se que no início do século XX, ao implantar o novo trajeto nas várzeas do Rio Paraopeba, ocorreu a reversão das estruturas de longa duração que permitiram que este território se estabelecesse como lugar de resistência às margens do controle direto das administrações centrais durante quase três séculos.
Reestruturação Territorial no Vale do Paraopeba: A Variante Paraopeba sob a perspectiva da Escola Italiana de Morfologia Urbana |
Acesse o trabalho na íntegra pelo link: doi.org/10.47235/rmu.v12i2.424
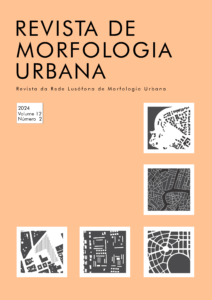
O rio Paraopeba, afluente do São Francisco, desempenhou um papel fundamental nas expedições paulistas pelas futuras terras de Minas Gerais nas últimas décadas do século XVII. Inicialmente, a região do médio Paraopeba foi alvo da busca pelo ouro, mas desenvolveu um caráter agropecuário em parte do período colonial e imperial. No entanto, no início do século XX, a construção da Variante do Paraopeba pela Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB) transformou a dinâmica do território, que antes funcionava fora do controle direto das administrações centrais. Com base na visão holística do território de Saverio Muratori (1967), este estudo reavalia os efeitos da ferrovia na reversão das estruturas de longa duração observadas em duas cachoeiras deste rio e em ruínas presentes na paisagem. São analisados a rota de exploração (1670-1690) e quatro períodos morfológicos distintos: a colonização inicial (1690–1730), a distribuição de sesmarias (1730–1810), a estagnação e transição para a mineração de ferro (1810–1910) e a era ferroviária (1910–1940). Nos anos que se seguiram, enquanto a ocupação do fundo de vale era incentivada, os empreendimentos mineradores se estabeleceram em cotas superiores. Essa dupla condição estrutura parte dos dilemas entre as ocupações e o avanço da mineração na contemporaneidade.
CULTURAL AND ENVIRONMENTAL HERITAGE IN THE MIDDLE PARAOPEBA VALLEY: A CRITICAL REASSESSMENT THROUGH URBAN MORPHOLOGY |
Acesse o trabalho na íntegra pelo link: doi.org/10.29327/9786527212843

Located within the western limb of the Moeda syncline and marked, directly or indirectly, by mining activities since colonial times, the region known as the middle Paraopeba Valley is rich in history and biodiversity. Hosting one of the most significant sites in the mining history of Minas Gerais, the ruins of the deactivated 18th-century mining complexes share space with the most recent mining and metallurgical enterprises. Despite considerable advances in the conceptual and instrumental fields, many of the integrated cultural assets of this region are still not recognized as such, posing one of the main challenges to their preservation. From the quilombola communities to important sites from the industrialization period, the advancement of mining activities and their severe environmental repercussions offer the opportunity to critically reassess the previous heritage charts. Through the analysis of past occupation and the reading of the environmental structure, the objective of this article is to reveal how the study of urban morphology can help to interpret environmental heritage in the middle Paraopeba. To achieve the objective, a blend of methods of two authors is employed. The first one is Saverio Muratori (1967), founder of the Italian School of Urban Morphology; and the second is Xabier Garaitagoitia (2019), a member of the Urban Laboratory of Barcelona (LUB). Both are selected to characterize the territory in historical layers perspective, which identifies cycles or morphological periods, allowing the interpretation of changes in the urban fabric over time. Through a literature review and analysis of documentary sources, this paper was divided in two main parts. It starts from the Muratorian concepts and the characterization of the middle Paraopeba, as it was occupied and firstly structured. In the second part, we discuss the Venice Charter within a contemporary context (1964), emphasizing its Eurocentric origins and advocating for a new critical reevaluation that incorporates evolving heritage concepts, including the new perspectives on cultural landscape. By conducting an analysis of historical layers, it was revealed that, beyond the inadequacy of the applied instruments, the challenges to environmental heritage management still face Colonial Legacies. The introduction of agricultural and mining practices has not only altered soil composition and native vegetation but also reshaped the occupation of the territory. Furthermore, modern mining practices, involving the construction of dikes and dams, present novel challenges for the preservation not only of the heritage but also of all the lower-placed occupations. Therefore, the quilombola communities, which possess a rich cultural heritage, are the first to be threatened by contemporary territorial dynamics. Consequently, mitigating the negative impacts of mining practices and preserving historical and environmental fragments has underscored the importance of reevaluating environmental reading tools to foster new avenues of interpretation and preservation of heritage assets. Lastly, there is a proposed need to acknowledge the historical complexity of the region, suggesting the integration of interdisciplinary approaches to ensure effective and inclusive conservation.
PDF.

